“Ele odiava profundamente a América”, escreveu John le Carré sobre sua toupeira soviética fictícia, Bill Haydon, em Tinker Tailor Soldier Spy. Haydon tinha acabado de ser desmascarado como um agente duplo no coração do serviço secreto britânico, aquele cuja traição era motivada pelo animus, não tanto para a Inglaterra, mas para a América. “É um julgamento estético, tanto quanto qualquer outra coisa”, explicou Haydon, antes de acrescentar apressadamente: “Em parte moral, claro.”
Pensei nisto enquanto via as cenas de protesto e violência sobre a morte de George Floyd espalhadas pelos Estados Unidos e depois aqui na Europa e além. A coisa toda parecia tão feia a princípio – tão cheia de ódio e violência, e preconceito cru e não diluído contra os manifestantes. A beleza da América parecia ter ido embora, o otimismo e o encanto e a informalidade fácil que entra tantos de nós do exterior.
A um nível, a fealdade do momento parece uma observação banal a fazer. E, no entanto, chega ao cerne da complicada relação que o resto do mundo tem com a América. Em Tinker Tailor, Haydon no início tenta justificar sua traição com uma longa apologia política, mas, no final, como ele e o herói de Le Carré, o espião mestre George Smiley, ambos sabem, a política é apenas a concha. A verdadeira motivação está por baixo: a estética, o instinto. Haydon-upper-class, educado, culto, europeu – apenas não suportava a visão da América. Para Haydon e muitos outros como ele no mundo real, essa aversão visceral revelou-se tão grande que os cegou para os horrores da União Soviética, que foram muito além da estética.
A reflexão de Carré sobre as motivações do antiamericanismo – ligadas, como estão, aos seus próprios sentimentos ambivalentes sobre os EUA – são tão relevantes hoje como eram em 1974, quando o romance foi publicado pela primeira vez. Onde havia então Richard Nixon, há agora Donald Trump, uma caricatura daquilo que os Haydons deste mundo já desprezam: arrojado, agarrado, rico, e no comando. No presidente e na primeira dama, as cidades em chamas e as divisões raciais, a brutalidade policial e a pobreza, uma imagem da América é difundida, confirmando os preconceitos que grande parte do mundo já tem – ao mesmo tempo em que também serve como um dispositivo útil para obscurecer suas próprias injustiças, hipocrisias, racismo e feiúra.
Mais Histórias
Ta-Nehisi Coates: O caso das reparações
É difícil escapar à sensação de que este é um momento único e humilhante para a América. Como cidadãos do mundo que os Estados Unidos criaram, estamos acostumados a ouvir aqueles que odeiam a América, admiram a América e temem a América (às vezes todos ao mesmo tempo). Mas sentir pena dos Estados Unidos? Essa é nova, mesmo que o schadenfreude seja dolorosamente míope. Se é a estética que importa, os EUA hoje simplesmente não se parecem com o país ao qual o resto de nós deveria aspirar, invejar ou replicar.
Even em momentos anteriores de vulnerabilidade americana, Washington reinou supremo. Seja qual for o desafio moral ou estratégico que enfrentou, havia a sensação de que sua vibração política correspondia ao seu poder econômico e militar, que seu sistema e sua cultura democrática estavam tão profundamente enraizados que sempre puderam se regenerar. Era como se a própria idéia da América importasse, um motor que a impulsionasse, quaisquer outras falhas existissem debaixo do capô. Agora algo parece estar a mudar. A América parece estar atolada, a sua própria capacidade de recuperação em questão. Uma nova potência surgiu no palco mundial para desafiar a supremacia americana – a China – com uma arma que a União Soviética nunca possuiu: a destruição econômica assegurada mutuamente.
A China, ao contrário da União Soviética, é capaz de oferecer uma medida de riqueza, vibração e avanço tecnológico – embora ainda não ao mesmo nível dos Estados Unidos – enquanto protegida por uma cortina de seda de incompreensão cultural e lingüística ocidental. Em contraste, se a América fosse uma família, seria o clã Kardashian, vivendo sua vida no brilho aberto de um público global – suas idas e vindas, falhas e contradições, lá para todos verem. Hoje, de fora, parece que este estranho, disfuncional, mas altamente bem sucedido início de uma família estava sofrendo uma espécie de colapso em grande escala; o que fez essa família grande aparentemente não é mais suficiente para evitar seu declínio.
Os EUA -uniquamente entre as nações- devem sofrer a agonia dessa luta existencial na companhia do resto de nós. O drama da América rapidamente se torna o nosso drama. Dirigindo para encontrar um amigo aqui em Londres quando os protestos irromperam pela primeira vez nos Estados Unidos, passei um adolescente em uma camisa de basquete com Jordan 23 brasonado nas costas; notei isso porque minha esposa e eu tínhamos assistido The Last Dance on Netflix, um documentário sobre uma equipe esportiva americana, em uma plataforma de streaming americana. O amigo disse-me que tinha visto graffiti no caminho para cá: Eu não consigo respirar. Nas semanas seguintes, manifestantes marcharam em Londres, Berlim, Paris, Auckland e outros lugares em apoio à Black Lives Matter, refletindo o extraordinário domínio cultural que os EUA continuam a ter sobre o resto do mundo ocidental.
Num comício em Londres, o campeão britânico de pesos-pesados Anthony Joshua fez um rap com a letra de “Changes” de Tupac ao lado de outros manifestantes. As palavras, tão jarrosas, poderosas e americanas, ainda são tão facilmente traduzíveis e aparentemente universais – embora a polícia britânica esteja em grande parte desarmada e haja muito poucos tiroteios policiais. Desde a efusão inicial de apoio a Floyd, os holofotes voltaram-se para dentro, aqui na Europa. Uma estátua de um velho comerciante de escravos foi derrubada em Bristol, enquanto um de Winston Churchill foi vandalizado com a palavra racista em Londres. Na Bélgica, os manifestantes visaram memoriais a Leopold II, o rei belga que fez do Congo a sua própria propriedade privada genocida. A centelha pode ter sido acesa na América, mas os fogos globais estão sendo mantidos vivos pelo combustível das queixas nacionais.
Para os Estados Unidos, este domínio cultural é tanto uma enorme força como uma fraqueza sutil. Ela atrai pessoas de fora talentosas para estudar, construir negócios e se rejuvenescer, moldando e arrastando o mundo com ela, influenciando e distorcendo aqueles incapazes de escapar de sua atração. No entanto, esta dominação tem um custo: O mundo pode ver para a América, mas a América não pode olhar para trás. E hoje, a fealdade que está em exibição é amplificada, não acalmada, pelo presidente americano.
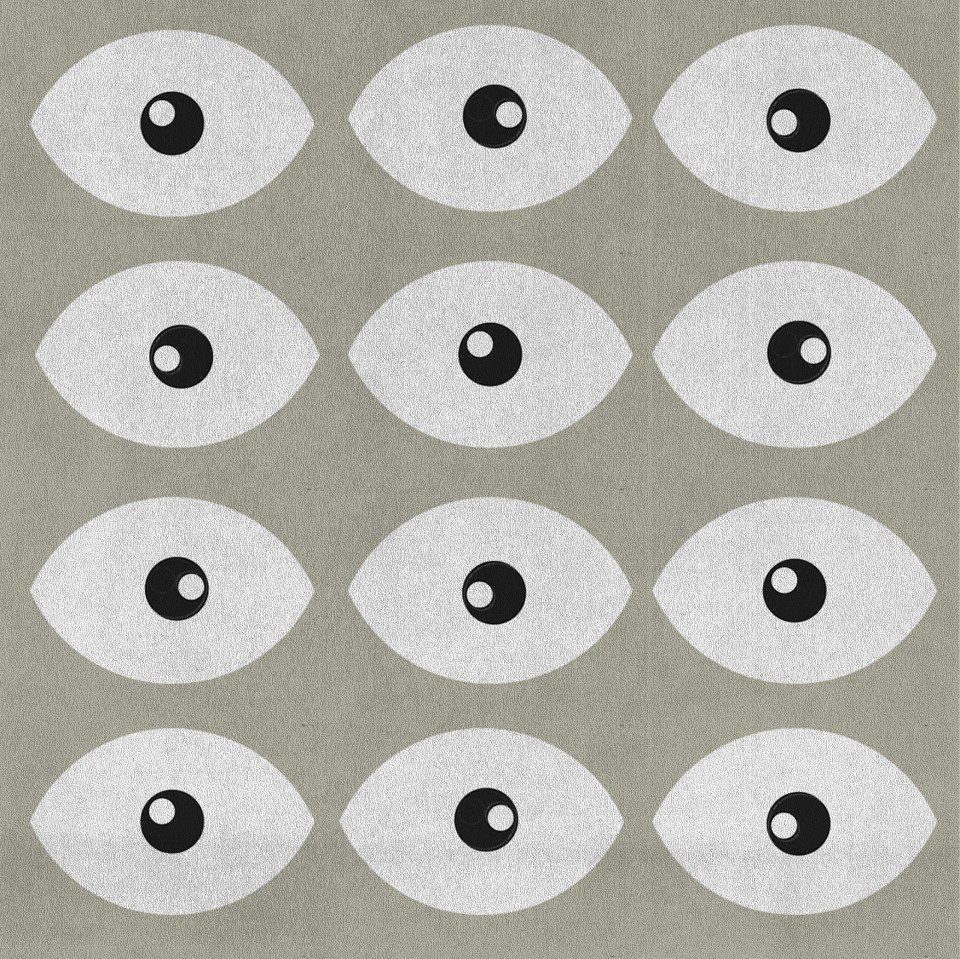
Para entender como este momento da história dos EUA está sendo visto no resto do mundo, falei com mais de uma dúzia de diplomatas seniores, funcionários governamentais, políticos e acadêmicos de cinco grandes países europeus, incluindo conselheiros para dois de seus líderes mais poderosos, bem como para o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair. Destas conversas, a maioria das quais teve lugar na condição de anonimato para falar livremente, surgiu um quadro em que os aliados mais próximos da América olham com uma espécie de incompreensão atordoada, inseguros sobre o que vai acontecer, o que significa e o que devem fazer, em grande parte ligados à raiva e a um sentido comum, como me disse um influente conselheiro, que a América e o Ocidente estão a aproximar-se de uma espécie de fin de siècle. “O momento está grávida”, disse este conselheiro. “Só não sabemos com o quê.”
Ler: As convulsões de hoje não são sem precedentes. Falei com citados protestos e motins anteriores, ou a diminuição da posição da América após a guerra do Iraque em 2003 (uma guerra, certamente, apoiada pela Grã-Bretanha e outros países europeus) – ainda que a confluência de eventos recentes e forças modernas tenha tornado o presente desafio particularmente perigoso. Os protestos de rua, a violência e o racismo das últimas semanas irromperam no exato momento em que as falhas institucionais do país foram expostas pela pandemia da COVID-19, reforçada por sua divisão partidária aparentemente intransponível, que agora está até infectando partes da máquina americana que até agora não foram tocadas: suas agências federais, o serviço diplomático e as normas de longa data que sustentam a relação entre civis e militares. Tudo isso está acontecendo no último ano do primeiro mandato do presidente mais caótico, detestado e desrespeitado da história americana moderna.
De fato, nem tudo isso pode ser colocado à porta de Trump; de fato, alguns dos que falei disseram que ele era o herdeiro e até o beneficiário de muitas dessas tendências, o cínico e amoral yang ao primeiro yin pós-Pax Americana de Barack Obama, que por sua vez foi o resultado do excesso de alcance dos EUA no Iraque depois do 11 de setembro. Blair e outros também foram rápidos em apontar a extraordinária profundidade do poder americano que permaneceu independentemente de quem estava na Casa Branca, assim como os problemas estruturais enfrentados pela China, Europa e outros rivais geopolíticos.
A maioria das pessoas com quem conversei foi, no entanto, claro que a liderança de Trump trouxe essas correntes – em conjunto com a pressão do declínio econômico relativo, a ascensão da China, o ressurgimento da política de grande poder e o declínio do Ocidente como uma união espiritual – para uma cabeça de uma forma e uma velocidade antes inimaginável.
Após quase quatro anos da presidência de Trump, os diplomatas, funcionários e políticos europeus estão, em graus variados, chocados, chocados e assustados. Eles têm estado presos no que me foi descrito como um “coma induzido pelo Trump”, incapazes de suavizar os instintos do presidente e com pouca estratégia a não ser sinalizar aversão à sua liderança. Também não foram capazes de oferecer uma alternativa ao poder e à liderança americanos, nem grande parte da resposta a algumas das queixas fundamentais consistentes tanto com Trump quanto com seu desafiador democrata para a presidência, Joe Biden: a cavalgada livre européia, a ameaça estratégica da China e a necessidade de enfrentar a agressão iraniana. O que uniu quase todos eles é a sensação de que o lugar e o prestígio da América no mundo estão agora a ser atacados directamente por esta súbita aproximação de forças domésticas, epidemiológicas, económicas e políticas.
Ler: Porque a América resiste a aprender de outros países
Michel Duclos, um antigo embaixador francês na Síria que serviu nas Nações Unidas durante a Guerra do Iraque, e que agora trabalha como conselheiro especial do grupo de reflexão Institut Montaigne, sediado em Paris, disse-me que o nadir do prestígio americano tem sido, até agora, as revelações de tortura e abuso dentro da prisão de Abu Ghraib, perto de Bagdad, em 2004. “Hoje, é muito pior”, disse ele. O que torna as coisas diferentes agora, segundo Duclos, é a extensão da divisão dentro dos Estados Unidos e a falta de liderança na Casa Branca. “Vivemos com a ideia de que os EUA têm uma capacidade de recuperação quase ilimitada”, disse Duclos. “Pela primeira vez, começo a ter algumas dúvidas.”
Quando o Tinker Tailor Soldado Spy chega à sua conclusão, Smiley escuta pacientemente os longos e divagantes ataques de Haydon à imoralidade e ganância ocidentais. Com muito disso”, escreveu le Carré, “Smiley poderia, em outras circunstâncias, ter concordado”. Foi o tom, mais do que a música, que o alienou”
Como o mundo observa os Estados Unidos, é o tom ou a música que está causando uma resposta tão visceral? Será uma coisa estética, em outras palavras, uma reação instintiva a tudo o que Trump representa, em vez do conteúdo de sua política externa ou da escala da injustiça? Por que, se é esta última, não houve marchas na Europa por causa do encarceramento em massa de muçulmanos Uighur na China, da asfixia constante da democracia em Hong Kong e da anexação da Crimeia pela Rússia, ou contra regimes assassinos em todo o Médio Oriente, como o Irão, a Síria ou a Arábia Saudita? Não é verdade, como muitos dos que falei disseram, que o assassinato de Floyd e a resposta de Trump a ele se tornaram metáforas de tudo o que é errado e injusto no mundo para o próprio poder americano?
Se isto é verdade, a repulsa contra os EUA é simplesmente mais um episódio de “política como arte performativa”, nas palavras de um conselheiro sênior de um líder europeu – um ato simbólico de rebeldia? Estamos testemunhando os bens imperiais americanos metaforicamente se ajoelhando para sinalizar sua oposição aos valores que o império passou a representar?
O mundo já se opôs, afinal, à música da política americana antes: sobre o Vietnã e o Iraque, o comércio mundial e as mudanças climáticas. Ocasionalmente, o tom e a música se uniram até para alienar os aliados mais próximos da América, como sob George W. Bush, que foi amplamente escarnecido, injuriado e oposto no exterior. Mas mesmo essa oposição nunca foi na mesma medida que é hoje – lembre-se, foi uma jovem Angela Merkel, então na oposição, que escreveu uma op-ed para o The Washington Post em 2003 intitulada “Schroeder Doesn’t Speak for All Germans” sinalizando a aliança contínua do seu partido com os Estados Unidos, apesar da oposição da Alemanha à guerra no Iraque. Falando sem rodeios, Trump é único. No nível mais básico, Bush nunca se afastou da ideia central de que havia uma canção ocidental, e que a letra deveria ser composta em Washington. Trump hoje não ouve música unificadora – apenas a batida monótona do interesse próprio.
Um conselheiro sênior de um líder europeu, que não queria ser nomeado para deliberações privadas relacionadas, me disse que o snobismo continental na noção de liderança americana do mundo livre, do “Sonho Americano” e outros clichês descartados até agora como irremediavelmente ingênuos, foi subitamente exposto pelo cinismo de Trump. Só quando a ingenuidade foi tirada, disse o conselheiro, se podia ver que tinha sido “uma força mais poderosa e organizadora do que a maioria … percebeu”. A podridão, nesta leitura, começou com Obama, um cínico professor do Ocidente, e culminou em Trump, cujo abandono da idéia americana marca uma ruptura na história mundial. Mas se a América já não acredita na sua superioridade moral, o que resta é a equivalência moral?
É como se Trump estivesse a confirmar algumas das acusações niveladas na América pelos seus críticos mais fervorosos – mesmo quando essas afirmações não são verdadeiras. O historiador britânico Andrew Roberts e outros notaram, por exemplo, que uma emenda de antiamericanismo percorre os romances de Le Carré, encontrando sua expressão em uma equivalência moral que não resiste a um escrutínio. Em Tinker Tailor, le Carré levou o leitor de volta a um momento no passado, quando Smiley tenta recrutar o futuro chefe dos serviços secretos da Rússia. “Veja”, diz Smiley ao russo, “estamos nos tornando homens velhos, e passamos nossas vidas procurando as fraquezas dos sistemas uns dos outros”. Eu posso ver através dos valores orientais, assim como você pode ver através dos nossos ocidentais… Você não acha que é hora de reconhecer que há tão pouco valor do seu lado como há do meu?”
Anne Applebaum: O falso romance da Rússia
Como a minha colega Anne Applebaum mostrou, a União Soviética supervisionou a fome, o terror, e o assassinato em massa de milhões. Quaisquer que sejam as recentes falhas da América, elas têm sido praticamente e moralmente incomparáveis a esses horrores. Hoje, com Pequim supervisionando a vigilância em massa dos seus cidadãos e encarcerando quase em massa um grupo étnico minoritário, o mesmo pode ser dito da China. E, no entanto, essa reivindicação de equivalência moral já não é mais a difamação de um cínico estrangeiro, mas a opinião do próprio presidente dos Estados Unidos. Em entrevista a Bill O’Reilly na Fox News em 2017, Trump foi convidado a explicar seu respeito por Putin, e ele respondeu com as generalidades habituais sobre o presidente russo liderando seu país e sua luta contra o terrorismo islâmico, levando O’Reilly a interceder: “Putin é um assassino.” Trump então respondeu: “Há muitos assassinos. Nós temos muitos assassinos. O quê, achas que o nosso país é tão inocente?” (Antes de se tornar presidente, Trump também elogiou a aparente força da China em reprimir violentamente os protestos pró-democracia da Praça Tiananmen.)
Tanto cinismo – que todas as sociedades são tão corruptas e egoístas como a próxima – anteriormente rejeitada pelos EUA. Hoje, as relações internacionais são pouco mais do que uma barganha transacional para os EUA, e o poder – não ideais, história ou alianças – é a moeda.
A ironia é que essa ordem mundial globalizada moralmente equivalente, despojada de noções ingênuas do “mundo livre” dos Estados-nação democráticos, encontra sua imagem espelho nos protestos de rua internacionalizados e pós-nacionais contra o racismo que temos visto nas últimas semanas. Manifestantes têm marchado na Austrália e Nova Zelândia, ambas com suas próprias divisões raciais e história de abusos, assim como na Grã-Bretanha e França, cada uma com histórias de colonialismo e contínuas divisões de raça e classe. É notável, como Ishaan Tharoor do The Washington Post salientou, que foi preciso a morte de um homem negro em Minneapolis para que as autoridades belgas derrubassem uma estátua da pessoa responsável por alguns dos crimes coloniais mais hediondos da história.
Para a Europa, em particular, o domínio continuado pelos EUA – cultural, económico e militar – prevalece sobre a sua realidade fundamental. Alguns dos que falei disseram que não eram apenas os manifestantes que eram culpados de uma forma de cegueira selectiva, mas os próprios líderes europeus que procuravam a protecção dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que se recusavam a ceder a qualquer preocupação democraticamente expressa que fosse para além de Trump. “Tem havido demasiada gestão e pouco movimento”, disse-me um conselheiro de um líder europeu. Neste momento, a extensão da estratégia da Europa parece ser simplesmente esperar por Trump e esperar que a vida possa voltar à ordem internacional anterior, “baseada em regras”, depois que ele deixar o cargo. Em Londres e Paris, no entanto, há um reconhecimento crescente de que este não pode ser o caso de ter havido uma mudança fundamental e permanente.
Aquele com quem falei dividiu as suas preocupações, implícita ou explicitamente, em preocupações causadas por Trump e preocupações exacerbadas por ele – entre os problemas específicos da sua presidência que, na sua opinião, podem ser rectificados, e aqueles que são estruturais e muito mais difíceis de resolver. Quase todos com quem falei concordaram que a presidência de Trump tem sido um divisor de águas não só para os EUA, mas para o próprio mundo: É algo que não pode ser desfeito. Palavras uma vez ditas não podem ser desfeitas; imagens que são vistas não podem ser invisíveis.
A preocupação imediata para muitos dos que entrevistei foi o aparente esvaziamento da capacidade americana. Lawrence Freedman, um professor de estudos de guerra do King’s College London, disse-me que as próprias instituições do poder americano têm sido “espancadas”. O sistema de saúde está em dificuldades, os municípios estão financeiramente falidos e, além da polícia e dos militares, pouca atenção está sendo dada à saúde do próprio estado. O pior de tudo, disse ele, “eles não sabem como consertá-lo”
As divisões internas, na verdade, são tais que muitos observadores estrangeiros estão agora preocupados que as divisões estão afetando a capacidade de Washington de proteger e projetar seu poder no exterior. “Haverá um dia em que esses problemas sociais afetarão a capacidade do país de se recuperar e de enfrentar os desafios internacionais que enfrenta?” Duclos disse. “Esta é agora uma pergunta legítima de se fazer.”
Tomem a confusão sobre a próxima cimeira do G7 em Setembro. Trump procurou alargar o grupo, incluindo nomeadamente a Rússia e a Índia, com o objectivo, foi-me dito, de construir um concerto de poderes anti-China. Mas este foi rejeitado pela Grã-Bretanha e pelo Canadá, e Merkel recusou-se a aparecer pessoalmente durante a pandemia. (Nos bastidores, a França tem tentado consertar as cercas – não é assim que uma superpotência deve ser tratada). “Isto ia ser mostrado, e as pessoas simplesmente não querem ser associadas a ele”, disse-me Freedman.
Ler: Como chegamos aqui?
Os EUA, no entanto, já estiveram aqui antes e mostraram a sua capacidade de se recuperar, desde a Grande Depressão ao Vietname até Watergate. Nesses momentos, porém, homens de estatura ocuparam a Casa Branca – falhos, às vezes corruptos, ocasionalmente até criminosos, mas todos certos do papel único da América no mundo.
Um embaixador europeu me disse que o próprio Trump é uma expressão do declínio americano. “Escolher Trump é uma forma de adaptação pouco bem sucedida ao mundo globalizado”, disse o diplomata, que pediu o anonimato. É um sinal de que os Estados Unidos estão seguindo outras grandes potências para baixo, algo que Biden – um septuagenário que deve ser protegido de multidões porque ele está entre as populações mais vulneráveis para o novo coronavírus – ilustra mais. “Isso mostra que há um elemento permanente nos novos EUA que não é muito saudável”, disse este embaixador.
Duclos concordou: “A Holanda foi a potência global dominante no século 18. Hoje, eles são um país de sucesso, mas simplesmente perderam o seu poder”. Até certo ponto, o Reino Unido e a França estão na jornada para se tornarem a Holanda, e os EUA estão na jornada para serem a Grã-Bretanha e a França”. Bruno Maceas, ex-ministro português da Europa, cujo livro A Aurora da Eurásia olha para a ascensão do poder chinês, disse-me: “O colapso do império americano é um dado adquirido; estamos apenas a tentar descobrir o que o irá substituir”
Nem todos estão convencidos. Blair, por exemplo, me disse que era cético em relação a qualquer análise que sugerisse que o tempo dos Estados Unidos como o poder preeminente do mundo estava chegando ao fim. “Você sempre tem que distinguir nas relações internacionais entre o que as pessoas pensam do estilo pessoal do presidente Trump e o que elas pensam da substância política”, disse ele – a estética e a realidade subjacente, em outras palavras.
Blair ofereceu três “grandes advertências” à idéia do declínio americano. Primeiro, disse ele, há mais apoio para a substância da política externa de Trump do que poderia parecer. Ele citou a necessidade da Europa de “subir no jogo” em relação aos gastos com a defesa, a vontade americana de colocar as práticas comerciais da China na mesa, e o empurrão de Trump contra o Irã no Oriente Médio. Em segundo lugar, Blair argumentou que os Estados Unidos continuam extraordinariamente resilientes, quaisquer que sejam seus desafios atuais, por causa da força de sua economia e de seu sistema político. Uma última advertência, segundo o ex-líder britânico, é a própria China, cuja onipotência ou respeito global não deve ser exagerado.
Blair – um americanófilo comprometido -, porém, ressaltou que as forças estruturais de longo prazo dos Estados Unidos não minimizam seus desafios imediatos. “Acho justo dizer que muitos líderes políticos na Europa estão consternados com o que vêem como o isolacionismo crescendo na América e a aparente indiferença às alianças”, disse ele. “Mas acho que chegará um momento em que a América decidirá, no seu próprio interesse, voltar a se engajar, por isso estou otimista de que a América acabará por entender que não se trata de relegar o seu interesse próprio por trás do interesse comum; é um entendimento de que, agindo coletivamente em aliança com os outros, você promove os seus próprios interesses.
“Eu não diminuo a situação no momento”, continuou ele, “mas você tem que ter muito cuidado em ignorar coisas profundas e estruturais que mantêm esse poder americano unido””
Ultimamente, mesmo neste momento de introspecção e divisão americana, ao se retirar de seu papel de única superpotência mundial, para a maioria dos países em sua órbita, não há alternativa realista à sua liderança. Quando Trump tirou os Estados Unidos do acordo nuclear iraniano, as três grandes nações da Europa – Grã-Bretanha, França e Alemanha – tentaram mantê-la viva, com pouco sucesso. O poder financeiro e militar americano poderia significar que até mesmo seu poder combinado era irrelevante. Na Líbia, sob Obama, a Grã-Bretanha e a França só podiam intervir com a ajuda americana. Como adolescentes gritando para serem deixados sozinhos e deixados no clube pelos pais, os aliados ocidentais da América querem ter tudo de bom.
Ler: Como a China está planejando reconquistar o mundo
A verdade é que vivemos em um mundo americano, e continuaremos a viver assim, mesmo quando o seu poder se desvanecer lentamente. A um nível, a Europa que enviou dezenas de milhares de pessoas para ouvir Obama falar no Portão de Brandenburgo quando ele ainda nem era presidente é a mesma que empacotou dezenas de milhares em capitais europeias no auge de uma pandemia global para pedir justiça para George Floyd: É uma comunidade internacional obcecada com a América, e dominada por ela. É uma comunidade que se sente como se tivesse um interesse na América, porque tem, mesmo que não seja constitucionalmente uma parte dela.
Se este é um momento singularmente humilhante para os EUA, então, por definição, é também um momento singularmente humilhante para a Europa. Cada um dos principais países do continente tem a liberdade de romper com o poder americano, se ele convocar a vontade política para fazê-lo, mas prefere oferecer oposição simbólica enquanto espera por uma mudança na liderança. Em alguns aspectos, a resposta da Europa desde 2016 tem sido quase tão lamentável quanto Trump tem sido ao prestígio americano.
Até 1946, quando Winston Churchill chegou a Fulton, Missouri, para proferir seu famoso discurso na Cortina de Ferro, o poder dos Estados Unidos era óbvio. Os Estados Unidos tinham as armas para destruir o mundo, o alcance militar para controlá-lo e a economia para continuar enriquecendo a partir dele. Churchill abriu o seu discurso com um aviso: “Os Estados Unidos estão, neste momento, no auge do poder mundial. É um momento solene para a democracia americana”. Pois com a primazia no poder também se junta uma prestação de contas imponente para o futuro”. Se você olhar ao seu redor, você deve sentir não só o senso de dever feito, mas também deve sentir ansiedade para não cair abaixo do nível de realização”
O problema da América é que o resto do mundo pode ver quando ela caiu abaixo de suas conquistas. Em momentos como o atual, é difícil contestar algumas das críticas feitas pelos críticos mais vociferantes do país, vindos do exterior: que é irremediavelmente racista ou excessivamente ambivalente à pobreza e à violência, à brutalidade policial e às armas. Os direitos e as injustiças não parecem particularmente complicados neste dilema, mesmo que o próprio país seja.
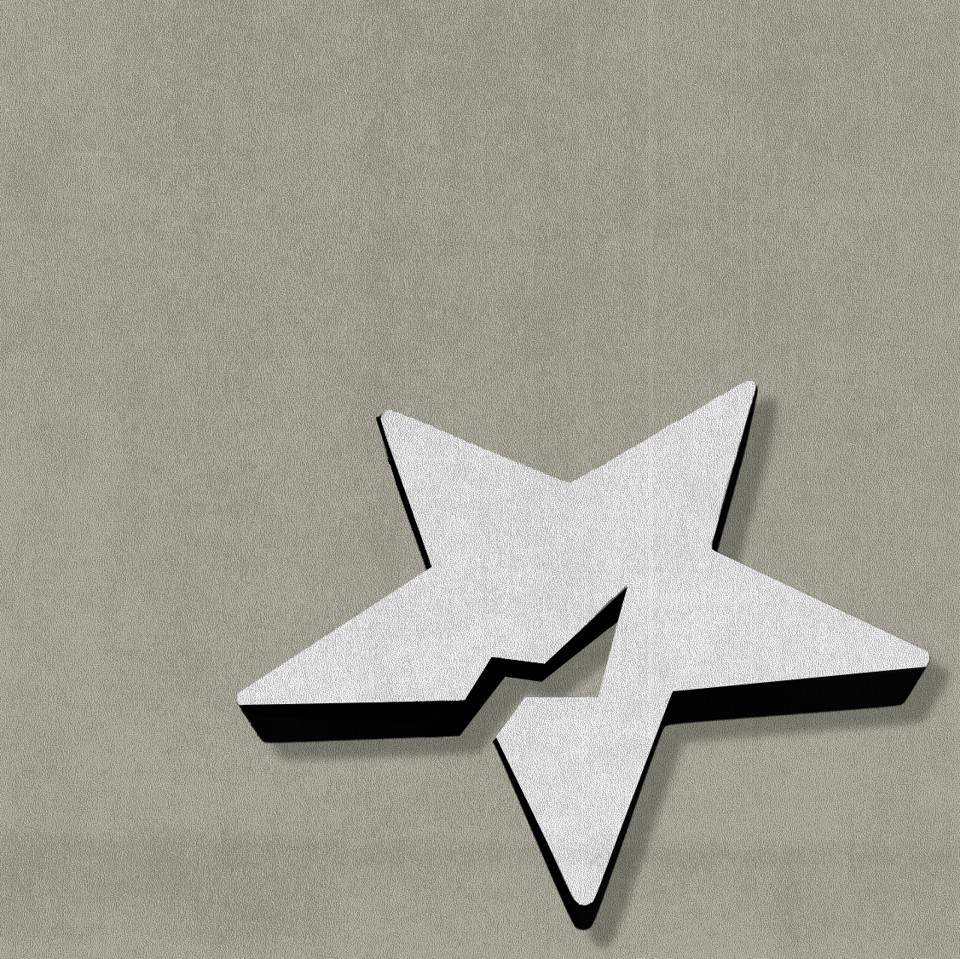
Yet também é uma nação que não é a Rússia ou a China, tanto quanto o seu próprio líder nos faria acreditar. Em Moscou e Pequim, para começar, não seria possível protestar em tais números e com tamanha veemência. De uma perspectiva europeia, é também impressionante ver a energia, a oratória e a autoridade moral mais uma vez borbulhando de baixo para cima – a beleza da América, não a fealdade. Ouvir um rapper de Atlanta discursar numa conferência de imprensa, ou um chefe da polícia de Houston falar a uma multidão de manifestantes, é assistir a um orador público mais realizado, poderoso e eloquente do que quase qualquer político europeu que eu possa imaginar. O que é diferente hoje em dia é que o mesmo não se pode dizer do presidente ou do candidato democrata que o quer substituir.
Outras vezes, por mais que haja racismo óbvio na América, continua a haver na Europa um preconceito subtil, profundo e penetrante que significa que os seus fracassos podem ser menos óbvios, mas não são menos prevalecentes. Onde, pode-se perguntar, as oportunidades de sucesso e avanço dos negros e das minorias étnicas são maiores, na Europa ou na América? Um rápido olhar sobre a composição do Parlamento Europeu – ou de quase todos os meios de comunicação social, escritórios de advogados ou conselhos de empresas europeus – é sóbrio para qualquer pessoa inclinada a acreditar que é o primeiro. Como me disse um amigo que vive nos Estados Unidos, ainda há muita cola que mantém os EUA juntos, com ou sem Trump.
Anne Applebaum: History will judge the cumit
Over a história da América, ela tem tido qualquer número de crises – e qualquer número de detratores. Le Carré é apenas um dos muitos que mergulharam no poço conflituoso das emoções que os Estados Unidos conseguem despertar naqueles que assistem de fora, em parte horrorizados, em parte obcecados. Em seu livro de viagens, American Notes, por exemplo, Charles Dickens relembra sua aversão por muito do que viu em suas aventuras pelo país. “Quanto mais tempo Dickens esfregava os ombros com os americanos, mais ele percebia que os americanos simplesmente não eram ingleses o suficiente”, Jerome Meckier, professor e autor de Dickens: Um Inocente no Estrangeiro, disse à BBC em 2012. “Ele começou a achá-los arrogantes, presunçosos, vulgares, incivil, insensíveis e, acima de tudo, aquisitivos”. Por outras palavras, é a estética novamente. Em uma carta, Dickens resumiu seus sentimentos: “Estou desapontado. Esta não é a república da minha imaginação”
Dickens, como le Carré, captou o domínio único da América sobre o mundo e a realidade fundamental de que ela nunca poderá estar à altura da imaginação das pessoas sobre o que ela é, bom ou mau. Enquanto assiste hoje, recuar mas não pode parar de olhar. Nos Estados Unidos, o mundo se vê a si mesmo, mas de uma forma extrema: mais violento e livre, rico e reprimido, belo e feio. Como Dickens, o mundo espera mais da América. Mas como o Carré observou, é também, em grande parte, uma coisa estética – não gostamos do que vemos quando olhamos com atenção, porque nos vemos a nós mesmos.